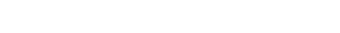Dosier Teoría crítica y crisis: construcciones intelectuales
frente a las crisis históricas
Utopias de humanização do capitalismo: a crise da intelectualidade crítica
Resumo: Este artigo busca questionar algumas críticas recentes à forma contemporânea e senil do capitalismo, que não alcançam a radicalidade do questionamento à forma-capital. A ideia é mostrar que uma gama de intelectuais críticos de diversas correntes apresenta propostas para a transformação do mundo que são, a um tempo, utópicas no sentido negativo de construtos ideais incoerentes e inexequíveis, e carentes de utopia no sentido positivo da imaginação de uma vida social radicalmente distinta do atual. Examinamos as críticas de autores de diferentes escolas filosóficas: o liberal Thomas Piketty, os foucaultianos Pierre Dardot e Christian Laval e, oriundos do marxismo, André Gorz e David Harvey. O objetivo é argumentar que a crise em que se encontra a intelectualidade crítica está ligada à sua falta de radicalidade. Secundariamente, este artigo também aponta que, em algumas das teorias que examinamos, a falta de radicalidade das teses pode ter como base o apego aos privilégios da “classe intelectual”.
Palavras-chave: Intelectualidade, Crítica, Capital, Utopia, Crise, Propriedade Privada.
Utopias of humanization of capitalism: the crisis of critical intellectuality
Abstract: This article seeks to question some recent criticisms of the contemporary and senile form of capitalism, which do not reach the radicality of the questioning of the form-capital. The idea is to show that a range of critical intellectuals of various currents presents proposals for the transformation of the world that are, at a time, utopian in the negative sense of incoherent and unenforceable ideal constructs, and lacking in utopia in the positive sense of the imagination of a social life radically distinct from the present. We examine the criticisms of authors from different philosophical schools: the liberal Thomas Piketty, the Foucaultians Pierre Dardot and Christian Laval and, from Marxism, André Gorz and David Harvey. The aim is to argue that the crisis in which critical intellectuality is found is linked to its lack of radicality. Secondly, this article also points out that, in some of the theories we examine, the lack of radicality of their theses may be based on attachment to the privileges of the “intellectual class”.
Keywords: Intellectuality, Criticism, Capital, Utopia, Crisis, Private Property.
Utopías de humanización del capitalismo: la crisis de la intelectualidad crítica
Resumen: Este artículo intenta poner en tela de juicio algunas críticas recientes a la forma contemporánea y tardía del capitalismo, que no alcanzan la radicalidad del cuestionamiento a la forma-capital. La idea es mostrar que una gama de intelectuales críticos de diversas corrientes presenta propuestas para la transformación del mundo que son, al mismo tiempo, utópicas en el sentido negativo de ser construcciones ideales incoherentes e inexequibles, y carentes de utopía en el sentido positivo de ser la imaginación de una vida social radicalmente distinta a la actual. Examinamos las críticas de autores de diferentes escuelas filosóficas: el liberal Thomas Piketty, los foucaultianos Pierre Dardot y Christian Laval y, provenientes del marxismo, André Gorz y David Harvey. Se trata de argumentar que la crisis en la que se encuentra la intelectualidad crítica está ligada a su falta de radicalidad. Secundariamente, este artículo también señala que, en algunas de las teorías que examinamos, la falta de radicalidad de las tesis puede tener como base el apego a los privilegios de la "clase intelectual".
Palabras clave: Intelectualidad, Crítica, Capital, Utopía, Crisis, Propiedad privada.
“[O]s chamados filósofos ou homens de especulação,
cujo ofício é nada fazer, mas tudo observar”
Adam Smith, A riqueza das nações
Introdução
Este artigo busca apresentar uma crítica à postura de intelectuais do campo da esquerda que recusam o chamado “neoliberalismo”, ou o atual capitalismo senil e em crise, sem, contudo, alcançar a raiz dos problemas que enfrentam, a saber, a relação capitalista que permeia a produção da vida, a forma-capital das relações sociais. Essas críticas vêm acompanhadas de propostas para a transformação social desprovidas de radicalidade e que, além disso, são incoerentes com as leis econômicas deste mundo e, por isso, utópicas. Utilizo aqui o termo utopia em seu sentido negativo, isto é, como desenhos de transformação social impraticáveis, e que se configuram como propostas políticas inócuas. Mas também gostaria de mostrar que nessas propostas há uma falta de utopia no sentido positivo: esses intelectuais pretendem consertar o mundo presente sem ousar defender uma transformação radical, que atinja o cerne da atual organização social, e permanecem presos às determinações capitalistas que caracterizam as relações sociais e o indivíduo.
Concretamente, viso a defesa da distribuição da riqueza por parte do economista francês Thomas Piketty, a proposta de valorização do “comum” por Pierre Dardot e Christian Laval, e a “renda de existência” como solução indicada pelo filósofo oriundo do marxismo André Gorz. São autores que buscam fazer a crítica às consequências da fase atual do capitalismo sem alcançar a crítica à relação capitalista em si mesma. Como buscaremos mostrar, essa falta de consequência pode ser identificada especialmente nas propostas de transformação do mundo que esses autores oferecem: constructos ideais a serem aplicados ao mundo, incoerentes com as “leis” deste, com seu campo efetivo de possibilidades. Pretendo ainda comentar brevemente uma recente tomada de posição do marxista David Harvey que, embora se distinga dos anteriores quanto à defesa do mercado como forma de integração humana, acaba por negar a possibilidade de superação do capital, abandonando a perspectiva de uma transformação radical da sociedade.
A distribuição de riqueza em Thomas Piketty
Primeiramente, abordo a defesa da distribuição de riqueza e de propriedade, representada aqui pelo economista francês Thomas Piketty. Ele escreveu O Capital do século XXI (2014), livro em que faz um diagnóstico da conjuntura econômica presente, em perspectiva histórica. Seu ponto central é a denúncia da extrema e obscena concentração de capital (patrimônio) e renda que se constitui a partir da década de 1980, juntamente com o advento do chamado neoliberalismo. Ele faz um estudo amplo e chega à conclusão de que, a partir de 1978, nos países desenvolvidos, a renda e o patrimônio voltaram a se concentrar, alcançando, na segunda década do século XXI, os níveis de concentração da década de 1910. Antes, entre o pós-segunda guerra e a década de 1970, durante a Guerra Fria, a desigualdade econômica nos países centrais havia diminuído. São os chamados “anos gloriosos”, que davam a impressão de que o capitalismo poderia contornar suas próprias contradições.
O autor aponta a causa da concentração de capital em uma lei econômica, a única que reconhece: a acumulação de capital caminha num ritmo mais acelerado que o crescimento econômico, ou seja, a parte do valor novo que se transforma em capital é sempre maior que o aumento da produção de valor em dado intervalo de tempo, ou seja, em um crescimento econômico anual de, digamos, 2 %, o grande capital amplia, por exemplo, 6 %.
1Isto posto, torna-se necessário criar mecanismos de distribuição de riqueza que contrariam a natureza da economia, conferindo limites a seu impulso espontâneo. Esses mecanismos só podem ser, portanto, políticos.
Uma vez que é da natureza da produção capitalista a concentração da riqueza, Piketty propõe sua distribuição por meio de impostos sobre lucro, herança e fluxos de capital que poderiam chegar a taxas de 90 %. Essa taxação seria efetivada por órgãos políticos supranacionais, em associação com os Estados, e então redistribuída. Uma das formas dessa redistribuição poderia ser uma herança estatal para todos os indivíduos que alcançassem certa idade. Deste modo, a igualdade de oportunidades seria real e a concorrência, justa. O cerne de sua proposta é produzir, por meio da política e suas instituições, uma fragmentação do capital. Em entrevista, ele explica:
O objetivo é fazer circular a propriedade, permitir que todo mundo tenha acesso a ela. O imposto sobre a propriedade permitiria financiar uma herança de 120.000 euros para todos aos 25 anos. Hoje, metade da população não tem patrimônio. (...) Quero uma sociedade em que todo mundo possa ter algumas centenas de milhares de euros e na qual alguns que criam empresas e têm sucesso tenham alguns milhões de euros, talvez algumas vezes dezenas de milhões de euros. Mas, francamente, ter várias centenas ou bilhões não me parece que contribua para o interesse geral (Piketty, 2019a).
Essa tributação faria com que a propriedade do capital se tornasse temporal: tão logo o capital se centralizasse para além de certos limites, seria parcialmente expropriado pela tributação. A fragmentação do grande capital em pequenos capitais individuais faria com que a concentração da propriedade fosse limitada pelo interesse geral, criando uma sociedade de pequenos produtores, um capitalismo sem classes sociais:
A questão é qual capitalismo. A lição da história é que a propriedade privada é útil para o desenvolvimento econômico, mas unicamente se for equilibrada com outros direitos: os dos assalariados, dos consumidores, das diferentes partes. Eu digo sim à propriedade privada, desde que se mantenha no razoável (Piketty, 2019a).
Esse horizonte de justiça e liberdade individual data do século XVII; é hegemônico na filosofia do XVIII e corresponde aos princípios do liberalismo expostos por John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau. Condiz também com a concepção liberal mais ampla de ser humano e de indivíduo. Os traços comuns à concepção desses diferentes pensadores modernos podem ser sintetizados na concepção de que a sociedade é posterior ao indivíduo, de sorte que este carrega a “natureza do ser humano” antes de qualquer associação, assentando a sociedade na relação de contrato, forma absoluta da civilidade. Esta relação contratual caracteriza tanto a esfera econômica como a esfera política, e inclusive a esfera familiar, já que os casamentos, como a troca de bens e a república, são contratos. Define, ademais, a liberdade, identificada à escolha (de fechar ou não um contrato de compra e venda, de prestação de serviço, de colaboração mútua, de compartilhar um corpo político ou uma casa). O interesse privado é assim naturalizado, e assume-se a concorrência como forma da relação social por excelência. Nesta antiga concepção, que Piketty pressupõe, não há incompatibilidade entre concorrência e bem comum. É a velha utopia liberal, que se constituiu antes do capitalismo industrial, no período ascendente da burguesia.
Para nosso autor, a perspectiva futura da transformação social está no passado: “O objetivo é voltar a um nível de concentração da fortuna que era mais ou menos o dos anos sessenta, setenta ou oitenta nos Estados Unidos e na Europa” (Piketty, 2019a). Neste período, “Entre os anos 1950 e 1970, os Estados Unidos passaram pela fase mais igualitária de sua história: o décimo superior da hierarquia de rendas detinha cerca de 30-35 % da renda nacional americana” (Piketty, 2014, p. 369). É esse seu horizonte moral de justiça.
Como alcançar esse passado glorioso? Ele explica: “A desigualdade não é econômica ou tecnológica, afirma, é ideológica e política” (cf.Rauber, 2020). Seria necessário atuar, não na esfera prática da luta de classes, mas na esfera ideológica, para que os valores ligados ao interesse geral possam ser reconhecidos e justamente apreciados. Deste modo, poderia ser estabelecido um consenso de ordem moral, regulado por órgãos políticos supranacionais de controle do capital. De instituições que atuam pela manutenção da propriedade privada e afirmação ideológica da necessidade da forma-capital para a vida humana, os Estados nacionais e o FMI passariam a órgãos de controle dos fluxos de capital e agentes de ostensiva tributação deste. Para Piketty, a política domina a economia e a ideologia domina a política. “O ponto essencial é que essas diferentes formas de controle democrático do capital dependem, em grande medida, do grau de informação econômica de que as pessoas dispõem” (Piketty, 2014, p. 690).
Ao fim e ao cabo é esta a solução do economista para a desigualdade social: uma educação voltada ao interesse geral (como alcançar essa educação pública e democrática e que ensine os valores do bem comum, isso ele não diz. Talvez intua que o direito à educação é fruto da luta de classes...)
Essa posição liberal requentada não deriva, contudo, da livre escolha de teorias no mercado ideológico, mas está relacionado com a perspectiva que Piketty assume sobre si mesmo, sobre sua própria atividade. Ele se declara um membro da classe intelectual. Considera-se um pesquisador desinteressado e neutro, que não toma partido: “Que fique claro: minha proposta aqui não é defender os trabalhadores em qualquer desavença com seus patrões, mas ajudar todos a ter uma visão clara da realidade” (Piketty, 2014, p. 49).
Propostas políticas de redistribuição de riqueza que não tocam na distribuição dos próprios seres humanos em diferentes classes sociais e atividades, isto é, na divisão do trabalho, são formuladas desde a segunda metade do século XIX. Também desde lá foram criticadas por Marx e Engels. Ideias como a igualdade salarial para todas as funções, como queria Proudhon e Düring, ou a defesa lassaliana do direito ao produto integral do trabalho, ou ainda as cooperativas owenistas foram abordadas por Marx e Engels à luz da imensa diferença que existe entre o planejamento coletivo e consciente da produção cuja medida são as múltiplas necessidades humanas, e a produção mercantil descontrolada, que impõe a mediação alienante do valor e sua desmedida em relações sociais determinadas pela concorrência.
A finalidade revolucionária em Marx e Engels obedece à perspectiva de superação da divisão do trabalho, tanto porque esta priva os indivíduos da apropriação do mundo social criado e transforma a atividade produtiva em meio de vida, quanto porque a especialização das atividades condena a todos à unilateralidade. Essa unilateralidade não é vista como problema por vários intelectuais críticos que buscam resguardar os privilégios próprios de esta elite da classe trabalhadora: estar liberada do trabalho material, que cabe a outrem. Engels faz precisamente a denúncia dessa defesa da divisão do trabalho, associada à piedosa exortação pela igualdade salarial, que há muito caracteriza a intelectualidade crítica:
É claro que o modo tradicional de pensar das classes cultas, herdado pelo Sr. Dühring, tem que considerar, necessariamente, como uma monstruosidade, que chegue o dia em que não existam mais carregadores e arquitetos de profissão, e no qual o homem, que passou uma meia hora dando instruções, como arquiteto, tem que servir durante algum tempo como carregador, até que seus serviços de arquiteto voltem a ser necessários. Para se eternizar a categoria dos carregadores de profissão não era preciso o socialismo! (Engels, 1971, p. 251)
Piketty retorna a esse tipo de proposta em um momento em que o capitalismo, tendo alcançado a quase completa hegemonia no globo terrestre, funciona, em meio à estagnação econômica, com base na violência estatal e na regressividade social. Suas proposições, deste modo, ganham não apenas uma visada ridícula, dado o contraste entre o caráter extremo e violento das contradições sociais e o suave percurso de efetivação das soluções, como precisam negar e ignorar leis objetivas há muito descobertas, de sorte que aquela realidade que ele pretende tornar clara para todos tem de sofrer amputações. Do mesmo modo, a lógica da coisa tem de se perverter, ou ser sumariamente abandonada, para acolher afirmações incongruentes.
Como sabemos, com Marx, o capitalismo se caracteriza por ser uma forma de socialização da produção. Este caráter coletivo da produção industrial é pressuposto do desenvolvimento técnico. A pulverização dos capitais em pequenas propriedades, que é o cerne da proposta de Piketty, impede, por exemplo, a utilização da tecnologia atual. Imagine-se o custo da produção de equipamentos eletrônicos, por exemplo, se ao invés de serem produzidos em fábricas chinesas gigantescas, fossem produzidos por pequenos capitais em empresas individuais com um ou dois assalariados. Ou a ciência voltar a ser desenvolvida por inventores individuais, e não mais nos enormes laboratórios com equipamentos que materializam enormes magnitudes de capitais? A proposta de Piketty implica, em primeiro lugar, o retrocesso da técnica e da ciência, que é o mesmo que a redução da produtividade do trabalho social. Segundo, é sabido que o capital responde a suas crises com expansão e centralização dos capitais. Como supor o capital, que é movimento, valor que se valoriza, sem exploração do trabalho e sem crescimento? Mais absurdo ainda: quem, de posse de 120 mil euros herdados do Estado, vai procurar emprego que não ofereça altos salários? Essa proposta reduz drasticamente a oferta de trabalho no mercado. Além disso, abolir a herança, ou 90 % dela, é já abolir o capital.
Mas ele pensa que chegaremos a isso por consenso, que a classe dominante vai renunciar a seu capital, a seus privilégios e seu poder político por meio de uma educação moral. Isso em plena ascensão da extrema direita fascista no mundo, inclusive na Europa. Quer dizer, não apenas sua proposta de um capitalismo humano contraria a lógica do capital, como os meios para alcançá-lo contrariam a lógica da política, que é a da luta de classes.
Piketty prefere propor algo impraticável, utópico, para não ousar imaginar um mundo livre da divisão do trabalho, que poria em questão seu lugar de intelectual. Mas seu ideário anacrônico e incoerente não pode ser caracterizado como uma utopia em sentido de abertura para um mundo radicalmente diverso, porque seu ideal visa um suposto passado perdido, em que o interesse comum subordinava o interesse privado. Os sujeitos, atomizados, subordinados à lógica concorrencial e unilaterais, não são problematizados: o indivíduo privado continua sendo a única forma do humano que ele concebe.
A priorização do comum em Dardot e Laval
Dardot e Laval também buscam fazer a crítica ao chamado neoliberalismo mas, diferentemente de Piketty, o foco dos autores é precisamente a subjetividade.
O neoliberalismo é caracterizado como um “sistema de normas” que estende a “lógica do mercado”, a competitividade, a todas as esferas da vida: “O que está em jogo é a construção de uma nova subjetividade, o que chamamos de ‘subjetivação contábil e financeira’, que nada mais é do que a forma mais bem-acabada da subjetivação capitalista” (Dardot & Laval, 2016, p. 31).
Os autores definem o neoliberalismo como uma “lógica normativa global”, uma racionalidade, “um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal de concorrência” (cf.Prado, 2017). Trata-se de uma forma nova de governar, e portanto um fenômeno essencialmente da esfera da política, vista de modo amplo, que permite que a “lógica do mercado” se estenda para todas as esferas da vida, começando pelo Estado e terminando na subjetividade. Quer dizer, antes, a lógica de mercado estava restrita à esfera econômica, e assim a vida escapava ao mercado; havia algo como uma esfera parcial de liberdade.
A subjetivação não aparece como oriunda da própria expansão das relações capitalistas, mas de uma normatividade e de um modo de governo (de si e dos outros). Seria, pois, possível a recusa individual dessa subjetivação porque ela não aparece como resultado de relações materiais, mas de uma norma, um governo, uma razão. Como pesquisadores que compartilham as teses foucaultianas sobre a biopolítica, não poderiam ver o Estado, à moda liberal, como um instrumento de moderação do impulso capitalista. Ao contrário, consideram o Estado um “coprodutor voluntário das normas de competitividade”, atuando pela defesa incondicional do sistema financeiro e do endividamento de massa. Colocam-se contra a ingenuidade de se cobrar do Estado um “controle” do mercado, e nisso se distinguem de Piketty. Ele é tomado como uma das peças da máquina neoliberal.
Em A Nova Razão do Mundo, os autores apontam como meio de oposição ao neoliberalismo a contraconduta: recusa ao empresariamento de si. Essa proposta não implicaria uma ação meramente individual, uma “desobediência passiva”, porque a mudança da relação consigo mesmo envolve a relação aos demais:
Se é verdade que a relação consigo da empresa de si determina imediata e diretamente certo tipo de relação com os outros (a concorrência generalizada), inversamente a recusa de funcionar como uma empresa de si, que é distanciamento de si mesmo e recusa do total autoengajamento na corrida ao bom desempenho, na prática só pode valer se forem estabelecidas, com relação aos outros, relações de cooperação, compartilhamento e comunhão. (Dardot & Laval, 2016, pp. 400-401)
Ainda que a relação a si não possa ser separada da relação aos demais, é a postura individual o foco dessa oposição. Ora, a recusa ao empresariamento de si e à concorrência só é possível para quem tem uma fonte de renda distinta do assalariamento. Fico imaginando a reação de um jovem entregador de aplicativo ao ouvir essa proposta...
Os autores devem ter se dado conta do caráter moral, e por isso inefetivo, de sua proposta de contraconduta. Em Comum — ensaio sobre a revolução no século XXI, escrevem que apenas a referência às “contracondutas” não é suficiente: com a razão neoliberal, confrontamos uma “estrutura social total” (Dardot & Laval, 2017, p. 478). Quer dizer, eles assumem o neoliberalismo como uma totalidade social, que envolve a economia, a política, as relações, a subjetividade. E retomam a necessidade de uma revolução. Aqui, parece que os autores voltam a ousar uma transformação social mais ampla, uma utopia em sentido positivo.
Citando uma entrevista de C. Castoriadis, explicam o conceito: “Revolução não significa nem guerra civil nem derramamento de sangue. Revolução é uma mudança em certas instituições centrais da sociedade pela atividade da própria sociedade: autotransformação da sociedade em curto espaço de tempo” (Dardot & Laval, 2017, p. 476).
Os autores não problematizam o agente desta revolução instituinte. Escrevem que a revolução:
Também não deve ser confundida com “alteração” de instituições como família, língua ou religião, que têm temporalidades próprias, muito mais longas. Castoriadis explica que “revolução é a entrada do essencial da comunidade numa fase de atividade política, isto é, instituinte”. (...) É, mais exatamente, o momento em que a práxis instituinte se torna instituição da sociedade por si mesma ou “autoinstituição” (Dardot & Laval, 2017, p. 476, grifos dos autores).
Trata-se da oposição entre “sociedade” e neoliberalismo, que acaba assim aparecendo como um ente, e não como uma relação social. O que é esta razão neoliberal, de onde ela vem e porque ela é contrária à “sociedade”? Sem referir às classes sociais e seus interesses antagônicos fica difícil responder a estas questões. Mas, coerentemente, os autores opõem uma razão a outra, afirmando que esta revolução instituinte colocaria em prática uma nova razão política: o comum. Distinto de bem comum, o comum não é uma coisa pré-estabelecida, mas é o próprio princípio instituinte a partir do qual deve-se decidir o quê, quais coisas, espaços, atividades devem ser comuns.
Nos termos dos autores, “O comum é, acima de tudo, uma questão de instituição e governo”. Enquanto o princípio mesmo não é instituído por ninguém, mas deve apenas ser reconhecido por aqueles que vivem juntos, tudo o mais a ser considerado parte do comum deve ser instituído. “Ao contrário da ‘gestão’, o ‘governo’ cuida dos conflitos e tenta superá-los por meio de uma decisão relativa às regras. Portanto, a práxis instituinte é uma prática de governo dos comuns pelos coletivos que lhes dão vida” (Dardot & Laval, 2017, p. 481, grifos dos autores).
Assim, o comum é o princípio político destinado a reger e prevalecer sobre as atividades econômicas. Ele não se restringe à esfera pública, mas transpassa a sociedade civil, sem precisar romper com as relações mercantis. Dardot e Laval escrevem:
em razão de seu caráter de princípio político, o comum também não constitui um novo “modo de produção” ou um “terceiro” interposto entre o mercado e o Estado, criando um terceiro setor da economia, ao lado do privado e do público. Como não implica a supressão da propriedade privada, a primazia do comum não exige a fortiori a supressão do mercado. Em contrapartida, exige a subordinação de ambos aos comuns e, nesse sentido, a limitação do direito de propriedade e do mercado, não simplesmente subtraindo certas coisas à troca comercial com a finalidade de reservá-las ao uso comum, mas eliminando o direito de abuso (jus abutendi) pelo qual uma coisa fica inteiramente à mercê do bel-prazer egoísta do proprietário (Dardot & Laval, 2017, p. 482).
Quer dizer, o mercado continua aparecendo como um direito do indivíduo, que não pode dele abusar, isto é, deve moderar o seu impulso egoísta por acumular riqueza. O problema da subjetivação da essência do capitalismo, tão caro aos autores, acaba sendo resolvido com a clássica solução moderna de moderar as paixões, submetendo os interesses privados ao princípio político do comum. Não se vislumbra uma efetiva emancipação do egoísmo de proprietário.
Começamos ouvindo que o neoliberalismo é a subjetivação máxima do capitalismo, que se trata de uma figura definitiva da “estrutura social total” e que, portanto, é necessária uma revolução. Terminamos, contudo, compreendendo que a revolução em foco tem como agente “a sociedade”, que sua função é instituir um novo princípio político que deve ser realizado por meio de novas instituições, e que a força instituinte dessa revolução é uma nova razão. Assim, o neoliberalismo é uma razão totalizante, mas a revolução que romperá com ele deixa aspectos dessa totalidade preservados: mercado, propriedade privada, Estado, família, religião. Essas são, contudo, as esferas da vida, pelas quais o empresariamento de si penetra, campos de relações que promovem a chamada subjetivação do capitalismo. É nessas relações que a subjetividade se forma.
Fica evidente aqui que o capitalismo, sem a sua subjetivação máxima, não é alvo de crítica. O horizonte revolucionário de nossos autores é limitado: deve-se submeter o impulso capitalista ao comum, um princípio político que caracteriza uma outra razão, sem necessidade de romper com as relações mercantis e patriarcais.
Mas, mesmo para alcançar esse objetivo tacanho seria necessária uma ampla mobilização popular, que não pode escolher ser pacífica, porque a reação estatal a qualquer ação popular contrária ao capital é alvo de violência. Mas os autores consideram que a “sociedade” pode escolher se autoinstituir novamente por meio de uma práxis pacífica. Ao fim e ao cabo, eles pensam como Piketty: a política domina a economia e razão domina a política. Assim, o caminho dessa revolução da razão só pode ser o caminho racional: o consenso. Como questionava o grande filósofo materialista Mané Garrincha, eles já combinaram isso com “os russos”?
Novamente, trata-se de intelectuais que veem sua atividade espiritual como instituinte de uma “revolução” sem agente e que não revoluciona a divisão do trabalho, e tampouco, portanto, o privilégio ou liberdade de que desfrutam os intelectuais frente ao trabalho material.
André Gorz e a renda de existência
Gorz olha, não a partir de uma análise do neoliberalismo mas de uma de suas transformações econômicas centrais — o advento da ciência como fonte de valorização do capital e a correspondente redução na quantidade de trabalho requerida para produção. O filósofo oriundo do marxismo aponta para uma característica central dessa nova fase do capitalismo, que chama de “crise do valor”. Trata-se do fato de que “produções crescentes são garantidas com quantidades decrescentes de trabalho” (Gorz, 2003, p. 212). Gorz expõe a especificidade desse momento do capitalismo numa colocação sintética:
O elo entre o mais e melhor foi rompido: para muitos dos produtos ou serviços, nossas necessidades estão completamente satisfeitas e muitas de nossas necessidades insatisfeitas não serão cumpridas produzindo mais, mas produzindo de outro modo, outra coisa, ou até mesmo produzindo menos. Isto vale, em particular, para nossas necessidades de ar, de água, de espaço, de silêncio, de beleza, de tempo, de contatos humanos (2003, p. 212).
O autor chama de neoconservadores o que hoje denominamos de neoliberais e caracteriza sua ideologia como darwinismo social, tema que Dardot e Laval expõe em detalhe anos depois, a partir de Foucault. Para Gorz, trata-se da finalidade de, em suas próprias palavras,
perpetuar a ideologia do trabalho em um contexto em que o trabalho pago torna-se cada vez mais raro. Assim, incitam as pessoas a procurarem um trabalho pago cada vez mais concorrencial. Como resultado da concorrência, esperam que o preço do trabalho (o salário) diminua e que os “fortes” eliminem os “fracos”. Dessa seleção neodarwinista dos “mais aptos”, esperam o renascimento de um capitalismo dinâmico, livre de sua escória e liberado, em todo ou em parte, das leis sociais (2003, p. 212).
Essa solução neoliberal busca eliminar contingentes humanos na mesma medida em que a produção capitalista elimina a necessidade de trabalho. A ela, Gorz contrapõe a defesa do tempo livre. Ele escreve: “O projeto de uma sociedade do tempo liberado onde todos poderão trabalhar, mas trabalhar cada vez menos com um fim econômico, tal projeto é o sentido possível do atual desenvolvimento histórico” (2003, p. 216).
Este projeto, posto assim de maneira geral, não é novo, como se sabe. Marx escreve, em 1857-58:
Tão logo que o trabalho em forma imediata deixa de ser a grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de deixar, de ser a sua medida, e, em consequência, o valor de troca deixa de ser [a medida] do valor de uso. O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não trabalho dos poucos deixa de ser condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano. Com isso, desmorona a produção baseada sobre valor de troca, e o próprio processo de produção material imediato é despido da forma da precariedade e da contradição. [Dá-se] o livre desenvolvimento das individualidades e, em consequência, a redução do tempo de trabalho necessário não para pôr trabalho excedente, mas para a redução do trabalho necessário da sociedade como um todo a um mínimo, que corresponde então à formação artística, científica etc. dos indivíduos por meio do tempo liberado e dos meios criados para todos eles (Marx, 2011, p. 588).
Mas, se em Marx essa condição depende de uma revolução social que destrua a forma privada da propriedade e a forma mercantil da integração humana, Gorz defende desvincular o trabalho individual da renda individual. Afirma que “a solução ótima é aquela que permite a cada um e cada uma trabalhar menos, trabalhar melhor e receber sob a forma de rendas reais crescentes sua parte da riqueza crescente que é socialmente produzida” (2003, p. 291). Contudo, sem a explosão das relações de valor, ele propõe “um conjunto de políticas específicas e, em particular, uma política social que faça depender o poder de compra não da quantidade de trabalho fornecida, mas da quantidade de riqueza socialmente produzida” (2003, p. 291). Propõe, pois, reformas políticas capazes de impor o tempo livre sobre as finalidades econômicas e também uma reforma cultural para escapar ao que chama de “ética do trabalho”.
No seu discurso, o capital desaparece, e é substituído por economia, ou sociedade de mercado, ou fetichismo do dinheiro. O problema passa a ser a ética “do trabalho” e “da guerra”. Desaparece a menção à forma capital do trabalho humano e a crítica passa a incidir sobre o trabalho “para a economia”, identificando economia, que é a produção social da vida, e forma-capital. Trata-se, pois, não de alterar a forma econômica, mas escapar à economia (Gorz, 2003, pp. 222-223).
Em 2005, no livro sobre o trabalho imaterial, Gorz redefine seu projeto de reformas políticas propondo uma renda de existência, uma renda advinda do Estado, que não remunera nada e nada exige em troca, uma renda universal e incondicional. Isso sem deixar de defender uma transformação cultural oriunda do indivíduo, que deve experimentar novas relações sociais e modos de vida “nos interstícios de uma sociedade que se desagrega”. Para ele, a proposta de uma renda de existência tem um potencial anticapitalista. Ele escreve:
A reivindicação de uma renda de existência se refere, no fundo, à necessidade de um outro sistema econômico (...), ela anuncia a decadência da economia política erguida sobre o frágil fundamento do trabalho, de certo modo realiza os preparativos para o seu desmoronamento (Gorz, 2005, p. 72).
Mas o que significa concretamente essa proposta? Imaginemos que ela se dê: ora, o primeiro efeito que ela teria é de uma subida dos salários. Se as pessoas têm direito a uma renda suficiente advinda do Estado, o que levaria alguém a procurar emprego? Isso dissolve a concorrência do mercado de trabalho. Faz descer a taxa de mais-valia, cujo aumento é o que sustenta a manutenção do capital em crise, funcionando como uma das principais contra-tendências à queda da taxa de lucro. Ou seja, retira a base de sustentação do capital.
Por outro lado, imaginemos as condições para que essa proposta se efetive: uma mobilização cuja força teria de ser tão grande a ponto de gerar uma inflexão no Estado neoliberal, que funciona como fiador último dos grandes capitais. Quer dizer, exigiria uma mobilização tal que configuraria uma situação pré-revolucionária. Sua proposta perde sustentação porque, ao mesmo tempo que tem radicalidade de minar a reprodução capitalista, não assume essa sua radicalidade e faz parecer que os processos institucionais seriam capazes de realizá-la sem violência. Também aqui aparece algo como o Estado contra o capital, a política contra a economia, e toda a argumentação se esforça por recusar a luta de classes e a revolução social.
O fetichismo de David Harvey
David Harvey, geógrafo marxista, cuja obra volta-se a demonstrar por diversos lados o caráter necessariamente destrutivo da produção capitalista, também sucumbiu tristemente à defesa da ordem e ao estreitamento dos horizontes de transformação da vida ao se manifestar no episódio final das Anti-Capitalist Chronicles: Global Unrest,2 que veio a público em dezembro de 2019. Harvey posiciona-se contra uma revolução anticapitalista, argumentando que um colapso do capital significaria hoje um colapso humano. Ele compara o momento atual com o período em que Marx viveu:
na época de Marx, se houvesse um colapso repentino do capitalismo, a maioria das pessoas no mundo seria capaz de se alimentar e se manter. Porque a maioria das pessoas era autossuficiente em sua área local, com o tipo de coisas de que precisavam para viver — em outras palavras, as pessoas podiam colocar o café da manhã na mesa, independentemente do que estava acontecendo na economia global. Atualmente, esse não é mais o caso. A maioria das pessoas nos Estados Unidos, mas cada vez mais, é claro, na Europa e no Japão, e agora cada vez mais também na China, na Índia e na Indonésia e em todos os lugares, depende inteiramente da importação de alimentos, de modo que recebem alimentos provenientes da circulação do capital. Bem, na época de Marx, como eu disse, isso não seria verdade, mas agora temos uma situação em que provavelmente cerca de 70 ou talvez 80 por cento da população mundial depende da circulação de capital para garantir o seu abastecimento alimentar, para adquirir os tipos de combustíveis que lhes permitirão mobilidade, para ter acesso a tudo aquilo que é necessário para a reprodução de sua vida diária (como citado em Martin, 2020).
O autor caracteriza nessa passagem o aprofundamento da divisão internacional do trabalho, que amplia a interdependência entre os países. Ele descreve ainda a quase completa hegemonia do capital sobre o conjunto da produção humana: nenhum valor de uso — ou quase nenhum, já que ainda existe a pequena produção para a subsistência em algumas regiões— é produzido sem que seja ao mesmo tempo mercadoria de um determinado empreendimento capitalista, meio de reprodução do capital, isto é, capital-mercadoria. Quando o conjunto dos produtos sociais são veículos de valor, o intercâmbio humano ocorre na forma mercantil e a distribuição de produtos se dá sob a forma da circulação do capital. Uma ruptura com a forma capitalista da produção e do intercâmbio humanos, contudo, é vista por Harvey como um colapso da produção e da circulação de bens. Quer dizer, romper a forma da relação social de produção só poderia acontecer mediante a destruição dos elementos concretos que compõem o capital, ou, no mínimo, a paralização de sua atividade concreta. Ele afirma:
Então, acho que essa é uma situação que eu posso realmente resumir da seguinte forma: o capital agora é grande demais para falir. Não podemos imaginar uma situação em que interromperíamos o fluxo de capital, porque se interrompêssemos o fluxo de capital, 80 % da população mundial morreria imediatamente de fome, ficaria imóvel, não seria capaz de se reproduzir de maneiras eficazes (como citado em Martin, 2020).
De fato, há uma diferença no nível de concentração do capital se compararmos o mundo de hoje com o período em que Marx viveu (há também uma diferença proporcional na quantidade absoluta de riqueza entre essas duas épocas.) Em Marx, contudo, a maior centralização do capital ou monopolização corresponde ao aumento da socialização da produção. Para ele, é justamente essa ampliação do caráter social da produção, observável, por exemplo, em uma divisão internacional do trabalho tão especializada quanto à presente, que permite a transição para o socialismo. Marx faz essa relação entre a escala da produção, a concentração de capital e aquela transição ao caracterizar o capital acionário:
Formação de sociedades por ações. Com isso:
- 1. Enorme expansão da escala de produção e das empresas, que era impossível para capitais isolados. Tais empresas, que eram governamentais, tornam-se ao mesmo tempo sociais.
- 2. O capital, que em si repousa sobre um modo social de produção e pressupõe uma concentração social de meios de produção e forças de trabalho, recebe aqui diretamente a forma de capital social (capital de indivíduos diretamente associados) em antítese ao capital privado, e suas empresas aparecem como empresas sociais em antítese às empresas privadas. É a abolição (Aufhebung) do capital como propriedade privada, dentro dos limites do próprio modo de produção capitalista.
- 3. Transformação do capitalista realmente funcionante em mero dirigente, administrador de capital alheio, e dos proprietários de capital em meros proprietários, simples capitalistas monetários (Marx, 1986, p. 332).
Primeiro, Marx observa que o aumento da escala da produção, no contexto da revolução industrial, deveu-se em parte à formação de sociedades por ações a partir dos empreendimentos estatais (em ferrovias, por exemplo) que requeriam grandes montantes de capitais. E, inversamente, o capital acionário, ao concentrar o capital da sociedade, permite uma ampliação produtiva sem precedentes, de tudo aquilo que não pode ser levado a cabo por pequenos capitalistas isolados.
Segundo, isso cria uma associação de capitais que, dialeticamente, nega o caráter privado —individual, familiar— do capital e o torna social, em uma sociedade de ações, mas no âmbito do capitalismo, porque essa associação se dá no interior de uma classe.
Terceiro, que no capital acionário a função de administração e direção se separa da propriedade do capital. Isso torna o título de propriedade meramente parasitário: o proprietário do capital não tem mais função alguma na produção e na circulação de bens, nem mesmo a direção do negócio.
O fato de a propriedade estar completamente descolada das funções da reprodução social significa que a classe trabalhadora é responsável pelo conjunto dessas funções, o que torna mais favorável sua apropriação coletiva. Marx escreve:
Nas sociedades por ações, a função é separada da propriedade de capital, portanto também o trabalho está separado por completo da propriedade dos meios de produção e do mais-trabalho. Esse resultado do máximo desenvolvimento da produção capitalista é um ponto de passagem necessário para a retransformação do capital em propriedade dos produtores, porém não mais como propriedade privada de produtores individuais, mas como propriedade dos produtores associados, como propriedade diretamente social. É, por outro lado, ponto de passagem para a transformação de todas as funções do processo de reprodução até agora ainda vinculadas à propriedade do capital em meras funções dos produtores associados, em funções sociais (Marx, 1986, p. 332).
Quanto mais concentrado é o capital, quanto mais se amplia a divisão social e internacional do trabalho, mais complexo e imbricado é o nexo social. Quer dizer que o capital já criou um conjunto de conexões produtivas —como, por exemplo, estruturas materiais de transporte e comunicação— que favorecem, ao invés de desfavorecer, a ruptura com a forma capitalista da produção social: basta desautorizar seu título de propriedade. Para isso, é necessário o processo destrutivo da revolução, isto é, a expropriação do capital e sua transformação imediata em propriedade pública, o que tem uma série de implicações, violentas inclusive. Mas a destruição material das forças produtivas não é uma delas. Ao contrário, é partir delas que se construirá um modo de produzir em sociedade superior à alienação capitalista.
Assim, Marx vê na ampliação das conexões sociais, que se expressa na interdependência global, na extrema concentração do capital, e na separação completa entre o proprietário e o gestor, fatores que favorecem a ruptura com a forma capitalista. Harvey parece fazer uma inversão ao considerar o capital como algo “grande demais para falir”: confunde a finalidade capitalista —que se sustenta em uma relação social de produção, ou em uma forma jurídica de propriedade, mantida pela força armada do Estado— com a produção e circulação concreta de valores de uso. Ele afirma mesmo que, se interrompermos os fluxos de capital, interrompemos a circulação de produtos. Jorge Martin contesta essa posição de Harvey:
Este é um exemplo flagrante da incapacidade dos acadêmicos de compreender o poder criativo da classe trabalhadora. Uma análise superficial das revoluções nos últimos 100 anos mostra o oposto do que Harvey prevê. Qualquer grande desenvolvimento revolucionário mostra como a classe trabalhadora se move no sentido de assumir o controle das fábricas, da produção de alimentos etc. por conta própria (Martin, 2020).
O autor dá diversos exemplos históricos de experiências revolucionárias foram bem-sucedidas em garantir o abastecimento:
Durante a revolução chilena de 1971-73, diante de uma paralisação reacionária dos caminhoneiros, os bairros operários estabeleceram as Juntas de Abastecimento Popular para garantir a distribuição de alimentos. Durante a Revolução Espanhola, as organizações operárias assumiram a gestão das fábricas, dividiram as propriedades rurais e organizaram a distribuição de alimentos, quando os capitalistas fugiram para o campo fascista. Na greve geral francesa de maio de 1968, quando 10 milhões de trabalhadores entraram em greve e ocuparam as fábricas, os produtores camponeses organizaram o abastecimento das cidades sob o controle dos comitês de trabalhadores. Na Venezuela, o lockout patronal de 2002-03 foi superado pela ação dos próprios trabalhadores, que assumiram as instalações da petroleira e a dirigiram sob seu próprio controle, além de desencadear um amplo movimento de tomadas de fábricas e controle operário (Martin, 2020).
Poderíamos dar ainda outros exemplos, como as diversas experiências de fábricas ocupadas, e mesmo a ocupação das escolas no Brasil entre 2015 e 2016, em que os estudantes assumiram a gestão da escola, promovendo aulas, cuidando da limpeza, distribuição de materiais e mais. E, aqui, até poderíamos concordar com Piketty: quem produz para si, se empenha mais.
Ao contrário de ser o sujeito necessário da produção social, é o capital que, sem mencionar o desastre ambiental e as catástrofes humanas que vem causando, interrompe e destrói a produção material em períodos de crise para reduzir os efeitos da superprodução sobre os preços. Poderíamos mencionar aqui a queima de café pelo governo de Getúlio Vargas em uma fogueira armada na festa junina de 1931 e que durou meses e meses, diferentes paralisações de plantas produtivas em vários momentos históricos, as casas vazias frente às pessoas acampadas em 2008, no centro do capital.
A forma-capital da produção gera o oposto do que David Harvey defende: ao contrário de ser necessária para a produção e circulação dos valores de uso, impede que elas se deem, caso não proporcionem lucratividade. É o que Marx há muito insiste, quando afirma que o capital “põe como condição do trabalho necessário, o trabalho excedente” (2011, p. 589). Quer dizer, aquela atividade produtiva que não é capaz de valorizar o valor, não se dá, ou, se acontece de se dar, é mais vantajoso para o proprietário que seu produto seja destruído, do que distribuído. Mas Harvey, que conhece bem a lógica do capital e desejaria superá-la, acaba por defender que é a revolução social que levaria à humanidade à extinção, e não a continuidade da predação capitalista.
*********
É flagrante a pouca fé de Harvey na classe trabalhadora. Mas esse afeto é característico da intelectualidade crítica e determina a crise em que se encontra. A invenção de conceitos, de novos nomes para velhas propostas políticas da social democracia – tributação dos lucros, distribuição de riqueza via estado, preservação de alguns âmbitos da vida social ou pública frente à predação capitalista – aparecem nos autores de que tratamos como panaceias que desconsideram que todo e qualquer pequeno direito foi produto de grandes lutas no âmbito da oposição de classe, lutas permeadas por intensa violência de Estado.
A recusa da luta de classe pode estar vinculada ao senso de superioridade do trabalho intelectual frente ao trabalho material. É característico da intelectualidade crítica ver-se à parte da classe trabalhadora, que subestima, e depositar sua fé na racionalidade da educação, da moral e da política, uma vez que vê a razão como seu próprio campo de atividade. Mas isso se dá às custas de sua própria coerência e se mostra uma posição, a um tempo, utópica, porque impossível se consideradas as leis do mundo mercantil, e carentes de utopia, porque todo o malabarismo teórico que elaboram acaba por resultar na defesa da conservação das relações fundantes deste mundo: propriedade privada, concorrência, autonomia individual, privilégios.
Referências
Dardot, P. & Laval, C. (2016). A nova razão do mundo – ensaio sobre a sociedade neoliberal (M. Echalar, Trad.). São Paulo: Boitempo.
Dardot, P. & Laval, C. (2017). Comum – ensaio sobre a revolução no século XXI ( M. Echalar, Trad.). São Paulo: Boitempo. Versão digital.
Engels, F. (1971). Anti-Dühring, ou a subversão da ciência pelo Sr. Eugênio Dühring (Parte II – Economia Política, Capítulo VI: Trabalho simples e trabalho complexo) (I. Hub e T. Adão, Trad.). Lisboa: Edições Afrodite.
Gorz, A. (2003). Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica (A. Montoia, Trad.). São Paulo: Annablume.
Gorz, A. (2005). O Imaterial - conhecimento, valor e capital (C. Azzan Júnior, Trad.). São Paulo: Annablume.
Martin, J. (2020). David Harvey against revolution: the bankruptcy of academic “Marxism". In defense of genuine marxism 25/06/2020. https://www.marxist.com/david-harvey-against-revolution-the-bankruptcy-of-academic-marxism.htm?fbclid=IwAR1RHYVeiLT_DN5Vq9Lvpi6TiU19ry_L0nW9r4igVsTuXjgq4SykcPQ6ZU8
Marx, K. (2011). Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política (M. Duayer e N. Schneider, Trad.). São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ.
Marx, K. (1985). O Capital – Crítica da economia política – Livro primeiro (R. Barbosa e F. R. Kothe, Trad.). Coordenação e revisão de P. Singer. (Coleção Os economistas Vols. I e II). São Paulo: Nova Cultural.
Marx, K. (1986). O Capital – Crítica da economia política – Livro terceiro (R. Barbosa e F. R. Kothe, Trad.). Coordenação e revisão de P. Singer. (Coleção Os economistas Vols. IV e V). São Paulo: Nova Cultural.
Piketty, Th. (2014). O capital no século XXI (M. Baumgarten de Bolle, Trad.) . Rio de Janeiro: Intrínseca. Versão digital.
Piketty, Th. (2019a). Entrevista a Marc Bassets. El País, 23/09/2019. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/21/cultura/1569078725_248388.html
Prado, E. (2017). Comum: uma alternativa política ao neoliberalismo. Blog da Boitempo, 06/11/2017. https://blogdaboitempo.com.br/2017/11/06/comum-uma-alternativa-politica-ao-neoliberalismo/
Rauber, I. (2020). Resenha de Capital e ideologia. Unisinos, 07/02/2020. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596131-o-cometa-piketty-sobre-o-livro-capital-e-ideologia
Notas
https://www.youtube.com/watch?v=BGmEUR3gDew&feature=emb_rel_pause
Cito as passagens já transcritas de sua fala por Jorge Martin (2020).
Recepção: 20 Janeiro 2023
Aprovação: 20 Abril 2023
Publicado: 01 Setembro 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional